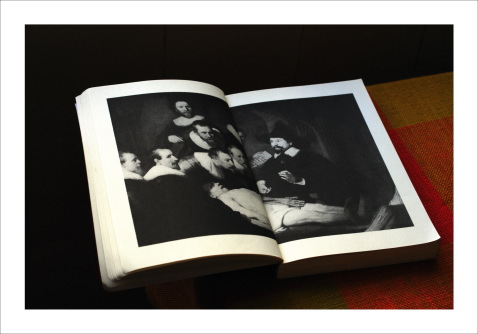Crítica sobre a exposição O Ofício de Viver na Galeria Carlos Carvalho em 2010.
________________________________________________________________________
Cesar Kiraly é professor de Teoria Política no Departamento de Ciência Política da UFF e no IUPERJ.
________________________________________________________________________
Daniel Blaufuks e As Férias de Hume: sobre O Ofício de Viver
I
Não desejo falar dos aproveitadores, dos que só se movem por dinheiro, porque precisam viver. Também não quero falar do talento. O que me importa são os espíritos moles e duros. Nem mesmo os facínoras, por hora, me interessam. É possível encontrar um espírito aproveitador, talentoso, facínora e mole. Como também um aproveitador, sem talento, facínora e duro. E, muito embora o dever de ofício se me apontasse para o mole, em virtude do talento, a sinceridade me faria pedir pelo espírito duro. Por essa razão, afasto a abundância de predicados e polarizo o mole com o duro.
Tanto um quanto o outro são conclamados pelo ofício dos dias, como disse, além de serem espíritos, o mole e o duro tem espírito. Pode-se dizer que é mais natural sentir simpatia pelo segundo, mas só suportar conviver com o primeiro. O espírito mole morre de pena de si mesmo, o que o faz aderir com força à humanidade, mas apenas abstratamente, ela se restringe aos artistas, morre de medo de tudo, das armas, dos pobres, da mãe, mas, principalmente, do trabalho; o eruditismo o faz distraído, comumente dá resposta como ‘esta é uma investigação aberta, não conclusiva’ ou ‘não tenho compromisso com a prática’, não por ter dúvidas epistemológicas ou questões políticas, mas por moleza mesmo. A sua indignação com piscinas cheias d’água da pequena burguesia, é sincera, mas não lhe ocorre o desconforto com seus apartamentos herdados, no caso de ser abastado, cheios de vazio.
Mas o fato é que o mole é chamado pelo ocaso das horas, tal como o duro. A diferença está na aceitação do desafio. O espírito duro não é capaz de se apiedar de si mesmo, jamais a exigibilidade do certo é suplantada nele pelo chafurdamento universal da humana condição, não adere nunca à humanidade, pois é incapaz do encantamento com o abstrato sem carne, por levar a abstração a sério, sabe que nada dele está na humanidade, e se compadece das circunstâncias de fraqueza, mas nunca pelo fraco; se esteta, a experiência se reduz ao pictórico e nunca aos artistas; por certo que tem medo de tudo, mas se envaidece por ser definido por ele; bizarramente ama o trabalho, abandona a intelectualidade por largos períodos de atividades duras. O seu sentimento de incompletude deriva das dificuldades da episteme e da variabilidade política, donde lhe é necessário agrupar fragmentos.
O espírito duro é poético e o mole se derrama em prosa. Nada seria mais mole do que dizer que não existe distinção completa entre os dois. Nada seria mais duro do que afirmar a distinção e admitir, cognitivamente, uma zona de indeterminação.
Mas que desafio seria esse? Aquele de entregar uma série estruturada pelo ofício de viver. Aquele de abandonar a idiorritmia, que é como Barthes denomina o tempo quase monástico daqueles que escrevem de verdade, por uma ordem convencionada, exterior em sua distância, mas interior em sua presença disciplinadora. Saber as horas, os dias, as semanas, os meses, as estações e os anos. Melhor, o alfabeto, letra por dia, rodeando horas, dias, ocasos etc.
O mais emblemático dos espíritos duros é Valéry. Ele aceita escrever o seu Alfabeto, por perceber que é necessário chegar ao fim, ainda que os percalços deem uma forma não planejada, as concessões não são feitas por brandura, mas por mutilação. O famoso tropeço no Q nada mais é do que a interrupção de um contrato, mas a decisão só chega ao fim com o Alfabeto pronto, é terminar, ainda que quebrado, nada de morrer antes. Um outro exemplo seria a reescritura, d’O Meridiano do Celan. O evento é realizado, o texto é lido, mas a questão é que acatar o pedido liga_algo, e isso precisa ser maior do que o pedido, o ensaio só termina na mutilação ou no atingimento da decisão. Donde outra pergunta surge: por que aceitar o pedido? Ao espírito mole a questão não se põe, ele simplesmente escorre pelos dedos como um relógio surrealista. Mas o espírito duro aceita, como uma macabra instituição. Os dias se revestem de sombra e as horas amarram os pés com chumbo. A cosmocronia passa a se orientar pela decisão tomada – se houve sedução, para o tomamento da encomenda, trata-se de um dos poucos pactos não mefistofélicos, pois não se deseja nada de bom, e nada pode ser mais sórdido do que a decisão que se traz presa às páginas do livro –, o ofício de viver transfigura-se em ocaso das horas, a primavera primeira, o verão tiraniza, o outono outona e o inverno inferna.
II
Estranho ter sido levado a escrever apenas por distância; fotografias que me chegavam digitalizadas, agrupadas para que tivessem ordem, sentido, para que alguma narrativa conceitual as unisse. Mas essa terceira presença não é completamente verdadeira, certa vez, perdido em uma vernissage, andei pela rua, atravessei-a sem olhos para os lados, entrei nas dependências da reserva técnica, e lá, ao fundo, em grandes proporções, um edifício alto, melancólico, mostrado de quina, e o esfumaçamento da imagem partindo do céu, envolvendo a face maior do arranhador. Sim, foi esse primeiro contato em apuros que me fez indagar o nome, e receber como resposta algo como o nome alemão de um vilão de conto de fadas ou de um pele vermelha. Sim, a partir desse ponto tive acesso à virtualidade guardada de sua obra, pude ver os encadeamentos. Mas a questão, e não poderia ocultá-la, foi que precisei dos cadernos do Blaufuks para começar a exigir sincronicidade em suas fotografias, vi dois, um de uma viagem à Rússia, repleto de selos, notas, hotéis, banheiras, um relato espiritual intencionado, de um deslocamento, e outro, de visita a campo de concentração. É pertinente dizer que Blaufuks não visa a indistinção entre a escrita e a imagem, e que por enquanto é mais fotógrafo do que escritor, talvez para proteger a sua escrita, mas essa asa alfinetada, apenas resolvida pelos grandes poetas e melhores teóricos, em alguns momentos, em algumas passagens de seus cadernos, parece se soltar, e pode ser que isso se deva ao aspecto abrangente que a duração da memória recebe em seu trabalho. Julgo ser o caso de remeter as asas soltas aos momentos em que uma delas está presa. A memória é como aquelas graves crises de febre que temos na infância – as mesmas descritas por Maria Rilke –, ela empresta alucinogenia tênue às coisas fornecendo intensidade, mesmo depois de curados é preciso ter cuidado, apesar de acumulativa a memória pode ocasionar fórmulas. Trata-se de quando se aprecia um certo estado de aprofundamento no tempo e se o utiliza constantemente por conhecer os seus efeitos. Acredito que o pacto com a alucinogenia febril da memória se mantém forte quando os efeitos são desconhecidos por quem os utiliza, porque senão resta-se, tão somente, um saudosista febril. Depois de ter um Daniel pronto para mim, composto por encontro imprevisto, cadernos, escrita à mão, virtualidade e sequenciamento de sentido, arrisquei um ensaio sobre esse território querido. Este teria uma natureza escrita, mas também concerniria a um encontro. Aceitou me encontrar quando de sua visita ao Rio. Despedimo-nos e o acompanhei até a metade do caminho para a academia de boxe, à praça Tiradentes, buscada por ele. Por último, por obra do destino, pude ficar completamente sozinho em sua exposição na casa da Eva Klabin.
III
Diante da série O Ofício de Viver, a primeira imagem que se me acometeu foi a As Férias de Hegel do Magritte. Nela há um fundo vermelho , um guarda-chuva aberto e um copo com água. Este sobre aquele. Penso que seja interrupção do tempo. Sem recorrer a excessos simbolistas, poderíamos concordar que o que falta a um guarda-chuva aberto é a chuva. Ainda sendo discretos, poderíamos identificar a água faltante dentro do copo. Nesse sentido, a chuva seria a água no tempo, e o copo com água, a ausência, ou aplacamento, de sua passagem. Dessa forma, Hegel seria um filósofo do tempo e suas férias seriam tiradas fora dele. Por certo que não são possíveis férias integrais do tempo, mas algum respiro é possível se a tempestade resta contida, por um momento, no copo com água. Donde a linda ironia do Magritte: apenas um pensador da essência pode tirar férias, a chuva é indistinta na sua atividade, na medida mesma em que se ocupa apenas de seus próprios delírios. Se Magritte resolvesse pintar as férias de Hume, elas seriam chuvosas, com alguns momentos de sol. Isso quer dizer que o oposto de um pensador essencialista do tempo seria o da variabilidade por circunstância.
Este é o perigo maior para a interpretação da série, tomá-la como um manifesto chassídico da separação entre o espaço e o tempo. Tomar o etrog sobre a mesa e a caixa com moedas como símbolos de alguma magia sabática – que levaria o tempo para férias de sua relação com o espaço e cindiria a temporalidade em variabilidade (ordinária) e absoluto (de consagração religiosa) – é um equívoco. Por essa razão que o viver é percorrido pela nudez, pelo capuz, pelo revólver; pela demonstração de que o congelamento da bolha no copo não separa o espaço do tempo, ou o inverso, mas os aprofunda. A durée pode receber muitos sentidos, mas isso não importa, o relevante é que nela está aquele do aprofundamento no espaço pelo tempo, sem que haja qualquer separação entre os dois. Um lençol em túnel pesado pelo fundo.
Hegel, que tira férias do tempo, e o chassídico, que as tira pela absolutização do instante, cometem o mesmo engano, resolvem ignorar o mais belo ardil da experiência, a plasticidade. O tempo jamais se separa do espaço, a não ser como hipótese – e nisso se torna hipótese de separação no espaço-tempo, ligados –, o que faz é muito melhor, e sem hipótese, pelas ações do gosto insere aprofundamento vertical no que se concebe ser apenas horizontal. O Hegel e os chassídicos apenas se aproveitam desta natureza para, sem compreendê-la, desfrutar de suas vantagens, sem viver as suas angústias; alguém sustenta o mundo quando Hegel tira o seu ano sabático, e também quando não o faz. Nem mesmo a Suécia é a Suécia por razões suecas.
Nisso está a beleza da série, e do princípio que expõe. O instante não é fruto do desvencilhamento do tempo com o espaço, trata-se, na verdade, de sua perversão vertical, invisível para quem não tem olho, ou, o duplo óbvio de seu movimento metafísico, o gosto. Os hegelianos e os chassídicos não possuem gosto, mas tão somente uma rotina, são como um ovo poché: íntegros por fora e moles por dentro; quando se preocupam com imagens, o que não é raro, operação inevitável para a instituição do gosto, é para excomungá-las, por assim dizer; ao contrapô-la a uma gema substantiva; passam com calma feliz a apontar, imagem por imagem, o porquê da beleza não estar nelas, mas à gema da qual supostamente participariam, e que seria invisível. Essa é uma forma de não assumir responsabilidade pela atração exercida pelas imagens, o que há nelas não as excede, nem para dentro e nem para fora, por isso a captura do olho por elas fala a nosso respeito. Blaufuks se move com cuidado para mostrar evidente que o ofício de viver está na vida.